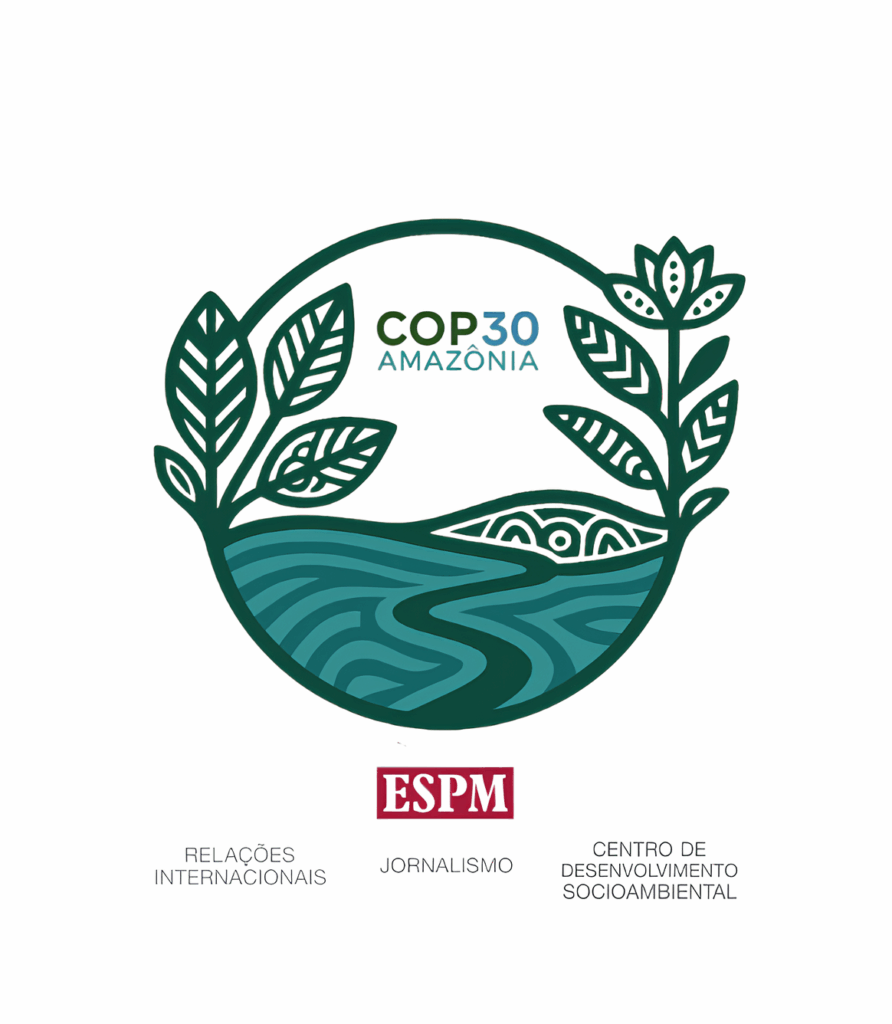Como a crise do clima depende dos povos tradicionais?
Compartilhar

Dois projetos brasileiros apresentam lições sobre preservação de ecossistemas e manutenção da sociobiodiversidade.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30) acontece neste ano em solo brasileiro, na maior floresta tropical do mundo – a Amazônia. Representantes de países do mundo todo estão discutindo desde o dia 10 de novembro com instituições públicas, setor privado e sociedade civil formas de lidar com a emergência climática. A Amazônia como local de escolha para esta edição da COP coloca os povos originários e tradicionais em uma posição estratégica, ampliando a visibilidade para essas comunidades. Pensando nisso, o Portal de Jornalismo da ESPM mapeou algumas iniciativas de povos tradicionais que estão presentes na conferência.
Mas afinal, quem integra os povos e comunidades tradicionais?
Hoje, no Brasil, são reconhecidos como povos e comunidades tradicionais 28 segmentos distribuídos por todo o território que estão presentes nos seis biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O reconhecimento oficial passou a valer a partir do Decreto 6.040, de 2007, que define a representação institucional por meio do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), segundo dados do governo federal. Povos indígenas e quilombolas já possuem reconhecimento prévio desde a Constituição de 1988.
Mas o que define uma comunidade tradicional? São grupos culturalmente distintos, com forma própria de organização social. A partir do uso do território e dos recursos naturais, mantêm a identidade cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Mesmo com diferenças entre uma comunidade e outra, alguns elementos podem se assemelhar, como a cultura oral, o domínio de técnicas de plantio e pesca, a valorização do saber detido entre os mais velhos e a capacidade de viver de forma harmoniosa com os ecossistemas. Você já deve ter ouvido falar dos Ribeirinhos, Quebradeiras de Coco Babacu, Seringueiros, Caiçaras, quilombolas entre outros
Rede Marangatu: protagonismo comunitário e soberania de dados na gestão costeira e marinha
“Historicamente, todos os estudos em biodiversidade focam só na biodiversidade. E não nas pessoas, né? Não prestam muita atenção às populações que habitam aquele lugar onde essa biodiversidade é encontrada.” – Vinicius Carvalho, coordenador de comunicação do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS)
A Rede Marangatu, em parceria com a Fiocruz, universidades brasileiras e comunidades tradicionais das cinco regiões do país, está desenvolvendo, desde 2024, um projeto de modelagem e implementação de polígonos territoriais de gestão costeira e marinha para a preservação da biodiversidade brasileira. Esse estudo foi apresentado na COP30 na primeira semana de evento,.
A Rede de Mulheres Originárias pela Defesa do Mar, no Chile, também integrou a atividade. Para Ingrid Echeverria Huequelef, do povo mapuche Williche e integrante da Rede, existe necessidade de trazer a perspectiva de gênero para a criação de políticas climáticas mais equitativas. “Especialmente para as mulheres de territórios insulares e costeiros, que são vulneráveis às mudanças climáticas e muitas vezes são deixadas de fora das decisões”, explica.

Encontro “Futuro das Águas: soluções da nascente à foz – Planos de Ação e Governança para o Bem Viver” OTSS na COP30.
Um dos pilares dessa iniciativa é a criação de uma matriz de estudo de sociodiversidade, como conta Vinicius Carvalho, coordenador de comunicação do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) – uma iniciativa da Fiocruz com o Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT). Possui uma série de ações com mais de 150 comunidades tradicionais em seis municípios nos litorais do Rio e de São Paulo. “A pesquisa agora vai a campo durante seis meses para coletar dados. O objetivo é conseguir demonstrar, com evidências científicas, o papel desses povos para salvaguardar a biodiversidade identificada nos ambientes costeiros”, informa Carvalho.
A defesa do território e o respeito ao saber ancestral se materializam, segundo Carvalho, em lutas concretas que resvalam na legislação nacional.. Nesse contexto, ele enfatiza uma batalha crucial, que ainda precisa ocorrer: tornar a caracterização de territórios tradicionais uma obrigação no licenciamento ambiental em todo o Brasil. O Ministério Público Federal tem sido um aliado fundamental na pauta, trazendo à memória tragédias como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, onde a ausência de mapeamento e conhecimento prévio das comunidades impactadas agravou drasticamente as crises.
A solução proposta pela Rede Magaratu e Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT) para superar a questão dos licenciamentos é a construção de “protocolos de consulta”. As próprias comunidades estabeleceriam como desejam ser escutadas e como governam. “Ao invés de a gente chegar com alguma solução pronta, que não tenha eco, enfim, no que as pessoas que vivem ali estão efetivamente querendo e que parta da comunidade.”
Água, saneamento e pertencimento: iniciativas nos territórios tradicionais do Ribeira
Viajando em direção ao Sul do estado de São Paulo, chega-se ao Vale do Ribeira,. O vale tema maior concentração de territórios quilombolas do Brasil e é de onde vêm as raízes de Rafael Guimarães, gestor público e ambientalista. Nascido e criado em Juquiá, cidade que, como ele próprio destaca, leva o nome do rio que abastece São Paulo, Rafael se dedica há 20 anos a projetos socioambientais e à gestão pública.
Além de seu trabalho com a educação ambiental, Rafael Guimarães também lidera um importante projeto de saneamento rural popular no Vale do Ribeira. Utilizando a Associação dos Bananicultores de Miracatu (ABAM) para captar recursos, o projeto implementa biodigestores e envolve as comunidades em uma metodologia participativa de educação ambiental contínua. Essa iniciativa, apresentada na Pré-COP em Belém, culminará com a participação de Guimarães na COP30 como relator da Carta de Belém, um documento que propõe a universalização do saneamento global, unificando drenagem, resíduos, abastecimento e esgotamento sanitário.

Formação de agentes de saúde no combate de endemias em Registro – SP Foto: Guilherme Guimarães
Apesar de a região ser retratada como um lugar “pobre” nos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, Guimarães enxerga riqueza na região pela sua história e pelo poder da água. Para ele, a água não só garante a segurança hídrica de uma das maiores cidades do mundo como também é exportada em qualidade por meio da produção familiar da região, realizada majoritariamente por quilombolas e indígenas.
O Vale do Ribeira conta com cerca de 40 comunidades quilombolas homologadas, concentra a maior população indígena do estado de São Paulo e forte presença caiçaras. Não por coincidência, a região é uma das mais preservadas do estado: apresenta mais de 2,1 milhões de hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, o equivalente a 21% das florestas remanescentes do bioma no Brasil, sendo a maior área contínua de um ecossistema do Brasil.

Formação de agentes de saúde no combate de endemias em Registro – SP Foto: Guilherme Guimarães
A conexão com o território fez Guimarães desenvolver projetos na região, como a criação de um núcleo de educação ambiental, com publicação de materiais didáticos que integram também as educações climática e territorial. A ação foi construída junto com professores. “A maioria das coisas feitas aqui foi realizada por outras pessoas, com uma visão externa e sem devolutiva. É o extrativismo cultural. “ Em contrapartida a essa mentalidade, seu último projeto é o Documentário “Águas do Ribeira”, uma obra que percorre o último grande rio não represado de São Paulo, trazendo vozes dos territórios como forma de resgatar a memória da região.
Quais outras iniciativas de comunidades tradicionais estão na COP 30?
Outro grande espaço abriga povos quilombolas, indígenas e de outras realidades. A maior delas é a Cúpula dos Povos, um evento paralelo à COP30, que reúne povos indígenas, ribeirinhos, camponeses, quilombolas e outros. Nesta edição, de acordo com dados do Brasil de Fato, a expectativa é reunir mais de 10 mil pessoas no espaço da Universidade Federal do Pará (UFPA), sem a necessidade de credenciamento. A necessidade do credenciamento, apesar de ser um padrão exigido pela Organização das Nações Unidas (ONU), organizadora da Conferência, pode excluir ou dificultar a participação de comunidades locais, priorizando a participação de grandes corporações.
No dia 15 de novembro de 2025, a cidade de Belém será palco da Marcha Global Unificada, um evento de mobilização internacional que reunirá povos originários, quilombolas, juventudes, trabalhadores urbanos e rurais, organizações, coletivos ambientais e sindicatos, além de redes internacionais. A marcha, que ocorrerá durante a Cúpula dos Povos, é vista como a expressão mais contundente da voz coletiva desses diversos grupos, servindo como uma demonstração popular que reitera a indissociável ligação entre a justiça climática e a defesa da vida e dos territórios. A iniciativa reforça a urgência de soluções que considerem a perspectiva das comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas e que historicamente têm desempenhado um papel fundamental na preservação dos ecossistemas.

Reportagem: Ísys Bueno
Supervisão: Renata Fontanetto